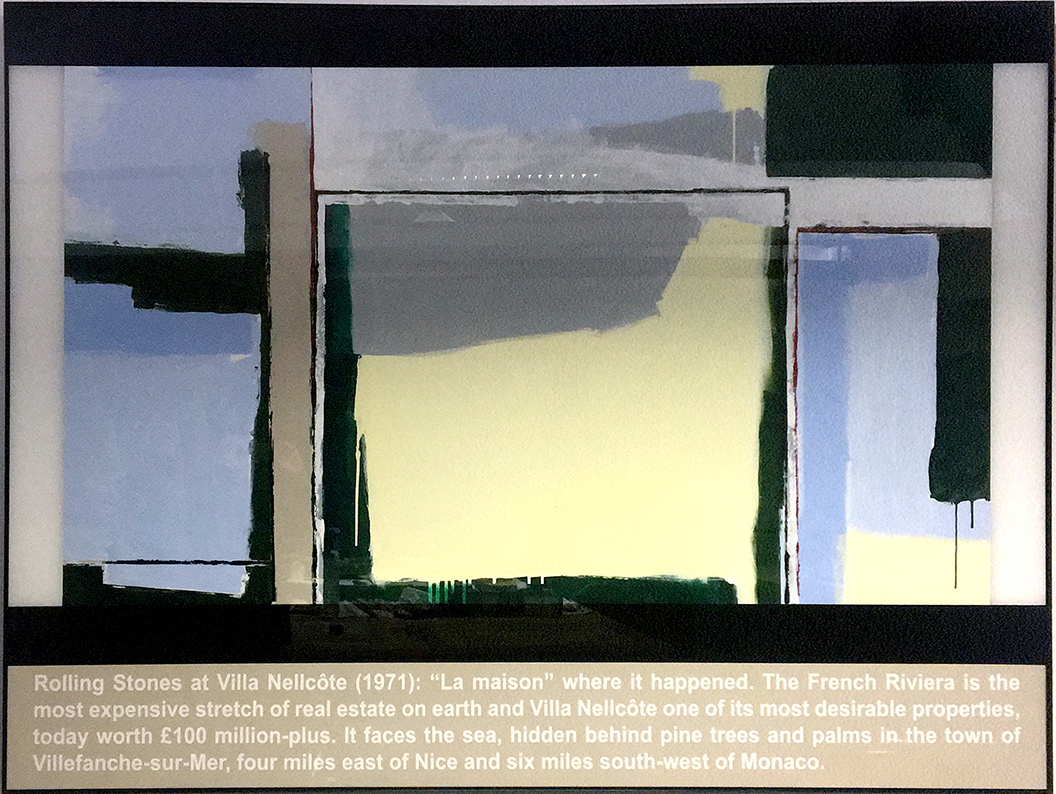
EH/ Recentemente, o escritório Uría Menéndez adquiriu uma das suas obras da série “Blind Images” para a sua coleção que está exposta atualmente em Lisboa. O que representa para si a arte conceptual e de que forma é que esta peça o subscreve?
JL/ Nasci em 1963. Quando comecei a pensar em arte e já depois de ter visto muita arte, estudado e visitado museus e galerias, a arte conceptual e minimal coincidia com o período de tempo em que comecei a refletir autonomamente sobre arte. Posso dizer que sou filho da “arte conceptual” e da “arte minimal”, que me formaram como artista. Há, portanto, uma filiação natural com essa forma de olhar o mundo.
EH/ Nesta série de pinturas, por vezes apropria-se de imagens fotográficas e cinematográficas que acompanham os textos. Que parte diz respeito a aspetos estéticos e que parte aos sociológicos?
JL/ As “Blind Images” são obras que pretendem refletir sobre o universo visual. Desde cedo percebi que existiam demasiadas imagens no mundo, numa infindável profusão ininterrupta. E comecei a achar que era suficiente as imagens que cada um de nós continha. Esse desconforto e a preocupação de já não sermos capazes de “olhar”, provocado pelo vórtice dessas imagens ininterruptas, fez-me duvidar, em primeiro lugar da imagem e, depois, rejeitá-la. Comecei por apagar imagens nas revistas e nos jornais e foi quando descobri que se a uma imagem apagada juntarmos texto estou, por um lado, a fazer a revisão do universo visual colecionando uma série de imagens (mas sem as mostrar) e, ao mesmo tempo, convocar o espectador para concluir a obra. Contudo a imagem sugerida pelo texto é a do espectador que observa a obra. O cérebro vê de forma mais completa que os olhos. Nesse sentido o espectador colabora ativamente com a obra e completa-a.
As Blind Images são por isso obras incompletas que recorrem ao espectador para as concluir. Não há, portanto, apropriação de imagem. Há um referencial de imagem que não está presente.
Quanto à questão sociológica da obra de arte, recordo um texto muito interessante e crítico de Hal Foster que se chama “The Artist as Ethnographer”. Como artista não tenho qualquer intenção de seguir esse caminho de investigação sociológica. Há invenção e estou mais próximo do poeta do que de um sociólogo, porque a poesia inventa a linguagem e descobre pequenos caminhos no betão da ciência que, desde o Iluminismo, é a nova religião. E fala a poucos, pessoalmente e nunca a todos ao mesmo tempo.
EH/ O artista tem de falar sobre o seu tempo através da sua arte?
JL/ Esse é o papel que considero fundamental de um artista. Haverá alguns artistas que são mais pertinentes que outros a falar do seu tempo, mas essa característica é para mim a mais importante. Um artista é uma forma de escriba que regista o seu tempo e ao sentir o “cheiro” desse tempo, o “zeitgeist”, regista-o. É a única forma de ser único e atual.
EH/ Quão importantes são os aspetos semânticos de cultura visual no seu trabalho? Como se refletem?
JL/ Os significados semânticos da cultura visual são a base de um conhecimento sobre a atividade que se denominou “arte”. Conhecer essas relações é fundamental, contudo, ser artista é mais do que isso. Ser artista tem que ver com aquilo que falávamos anteriormente, esse “olfato do tempo”, essa capacidade de encontrar novos significados que reflitam sobre o tempo em que o artista viveu, as relações que estabeleceu com o que existe e existiu, criando novas conexões. O tempo desse artista que é único, precisa de novos significados a partir dessas novas conexões e, por isso, os artistas que me interessam estão no limite a criar novos caminhos, a esticar os aspetos semânticos, a acrescentar significado a esses aspetos. Dai dizer que parece ser importante conhecer o alfabeto semântico, mas o mais importante e expandir os seus conteúdos. Nesse sentido o que procuro fazer é ser absolutamente atual, incomparável, pertencer ao meu tempo e abordar as questões que me interessam, as que escolhi, através de um olhar contemporâneo, mesmo quando se olha para trás, para a história.
EH/ Que importância têm para si as imagens no momento de criar as suas obras de arte?
JL/ Há demasiadas imagens no mundo. Espero poder continuar a refletir sobre elas, sobre o fenómeno dessa evidência exterior, não as usando. Utilizo a imagem para refletir de forma crítica sobre ela.
EH/ O que procura provocar no espectador com a sua arte?
JL/ A única forma de romper com o paradigma romântico, de onde ainda emitimos os nossos juízos, é convocar o espectador para que, através dele, se consiga interromper esse ciclo “artista—obra”. Só o espectador pode fazê-lo e por isso, para mim, é de relevância primordial. A obra deve ser concluída pelo espectador.
EH/ Na sua obra há referencias a Ulisses de Joyce ou Dom Quixote de Cervantes. Que vínculo encontra entre as artes visuais e a literatura ou o pensamento?
JL/ Nas expressões artísticas ou de pensamento que me interessam não há fronteira. Há apenas ângulos diferentes de observação, formalizados por técnicas de expressão diferentes
EH/ Na sua serie intitulada “Silence Will Save Us”, a música torna-se protagonista como imagem. Que importância tem a música para si?
JL/ A música é uma nova frente de trabalho. Como torná-la visível? Como pensar sobre ela? Já tinha elaborado a série sobre livros, as denominadas “Covers”, que são as capas dos livros que sempre me interessaram. Com as “Blind Music” queria fazer o mesmo… referenciar as obras de música que são fundamentais e que mudaram o panorama da música por algum motivo. Trazer o universo sonoro para o universo visual. Todas as que apresentei na Fundación DIDAC na Galiza têm essa característica. É uma exposição sobre música, mas em silêncio.
Wagner cunhou o conceito de obra de arte total aquela que integrava seis disciplinas: música, pintura, escultura, arquitetura, dança e poesia. De que maneira sua arte está em linha com este termo?
Wagner referia-se à ópera como forma mais completa de arte, que incluía todas as outras formas de expressão. Seria a visão do ideal romântico em que o espectador estaria condicionado e estimulado de tal forma, que mergulhava na obra de arte de forma completa, pela mão do seu criador. Não tenho essa pretensão, sou um crítico do romantismo.
EH/ Que desafios artísticos e pessoais encontrou enquanto representante de Portugal na 56ª Bienal de Veneza?
JL/ A representação de um país deve ser, em primeiro lugar, um desígnio e que, nessa intenção, seja a melhor representação possível. As dificuldades são de vária ordem e é uma prova de inteligência e resistência. É a fórmula 1 da arte… é preciso juntar qualidade, engenho, ter uma boa equipa, um bom curador e conseguir negociar com as várias entidades, questões políticas e orçamentais. É um desafio de elevado grau de dificuldade. Ter sido representante de Portugal foi um orgulho, mas foi também muito complexo. Podia usar-se aquela frase de uma música de Frank Sinatra… “And if I can make it there, I' I’m gonna make it anywhere”.
Tive a oportunidade e o prazer de trabalhar em estreita sintonia com uma das pessoas que mais respeito no mundo da arte que se chama María de Corral. Foi ainda uma homenagem, já que enquanto foi diretora do Museu Reina Sofia, com uma programação de nível internacional, tive a oportunidade de ver grandes exposições nos anos 90: Richard Serra, John Baldessari, Bruce Nauman, etc. Maria ensinou-me a ver arte.
EH/Em que projetos expositivos está a trabalhar atualmente?
JL/ Estou a trabalhar em vários projetos para o final deste ano e princípio de 2019. Queria apenas destacar uma profunda investigação que estou a fazer há bastante tempo, à volta das 1ª Guerra mundial e do aparecimento das vanguardas. Esta investigação vai permitir produzir 4 exposições com datas diferentes, algumas em Portugal e outras fora de Portugal.
Estou também a desenvolver um grande projeto que se chama “Linguistic Ground Zero”, que será apresentado no MAAT (Fundação EDP) em Novembro, com a curadoria de David. G.Torres e que se prolongará para o MUBE, em São Paulo com a curadoria de Paulo Herkenhoff e Caué Alves. Há ainda outros projetos em preparação.
EH/Como sabe o escritório é muito sensível a temas artísticos com diferentes iniciativas, como por exemplo, o prémio Rodrigo Uría Meruéndano de Direito da Arte. Como artista, que aspeto do Direito está presente no seu dia a dia?
JL/ Creio que a reflexão sobre os direitos de autor e a alteração do seu paradigma, é um tema fundamental. Este conceito terá, a meu ver, que se expandir sob pena de desaparecer num futuro próximo. E para isso deverá incluir novos conteúdos, compreender melhor a dinâmica contemporânea e criar um grau de plasticidade que não tem. Acho que há muito em que pensar à volta deste tema.



